
NOTA PRÉVIA: a 12 de Novembro de 2003, o Subagrupamento Alfa da GNR partiu para o Iraque. Nesse mesmo dia, em Nassíria, onde a força da GNR integrada na MSU (Multinational Specialized Unit) deveria ficar, um atentado arruinou esses planos e deixou um rasto de sangue e destruição. A GNR chegou ao Iraque no dia 13 de Novembro. Os dias seguintes foram complicados para os jornalistas portugueses no terreno. As linhas que se seguem recordam alguns desses momentos e fazem parte do livro “De Istambul a Nassíria, crónicas da guerra no Iraque”, publicado em 2008.
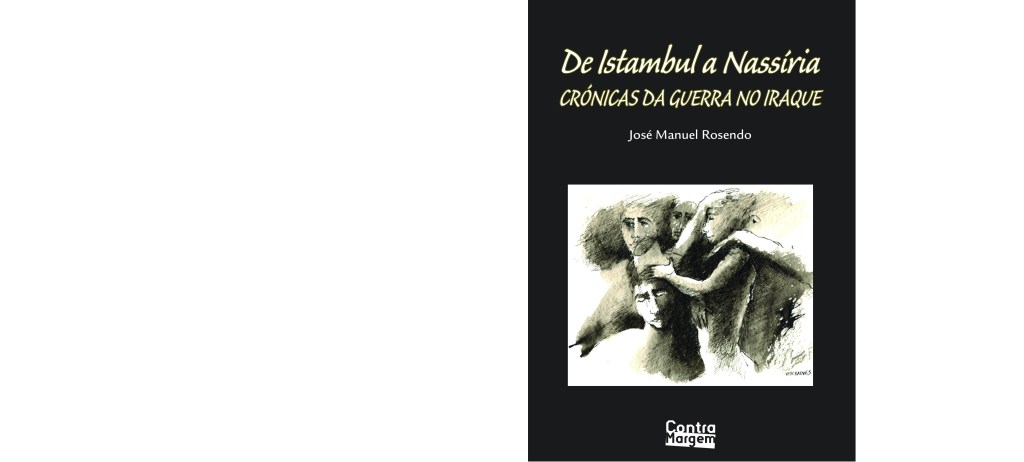
No dia seguinte, a chegada do contingente da GNR a Bassorá determina uma viagem até à segunda maior cidade iraquiana, no sul do país. Acertei com a equipa do JN que faríamos juntos, em dois carros, a viagem de cerca de 160 quilómetros. Já tinha sabido em Nassíria o dramatismo que envolveu a partida de Portugal do subagrupamento Alfa na noite anterior. Depois de muitos adiamentos, o atentado em Nassíria no dia da partida, introduzira uma carga emocional inesperada e uma angústia maior nas famílias dos militares da Guarda. Sabia que vinham jornalistas portugueses a acompanhar a GNR, mas não sabia quantos eram e tinha apenas quatro ou cinco nomes. O que já sabía é que o subagrupamento Alfa, depois de chegar de avião ao Koweit, faria uma viagem por terra até Bassorá, onde ficaria alguns dias até serem criadas condições para serem recebidos em Nassíria. Tentava já imaginar em que pensariam os 128 militares portugueses, por essa hora a caminho do Iraque. Alguns tinham experiência em teatros de guerra ou conflito, como foi o caso da Bósnia, Kosovo e Timor, mas o argumento de que o Iraque não era um terreno para as características de uma força como a GNR tinha sido combatido pelo Governo português que contrapunha ser a missão da GNR em Nassíria uma missão de segurança e ordem pública. Ora, o atentado da véspera veio demonstrar que o problema do Iraque, mesmo que Nassíria fosse até ao momento uma cidade calma, era tudo menos uma questão de ordem pública.
Depois de uma última volta por Nassíria, pela zona do atentado e pelo centro da cidade, estamos prontos para partir. Como não sabemos quanto tempo vamos ficar em Bassorá, levamos toda a bagagem. Laith é um iraquiano que não vai à mesquita. Nunca me falou muito das suas origens mas, por algumas coisas que foi dizendo, formei a ideia de que era descendente de turcomanos. Nunca lhe perguntei depois de perceber a sua reserva em falar dessa questão, apesar de Laith me ter levado a jantar a casa dele, com a mulher e os dois filhos adolescentes. Laith morava num bairro de pequenas moradias, afastado do centro, calmo, e onde me pareceu ser considerado pelos vizinhos. Os filhos de Laith vestiam ao estilo ocidental e estavam encantados com a possibilidade de poderem ver os canais de música estrangeiros e passavam o tempo colados à televisão. A mulher não cobria a cabeça com o tradicional véu e toda a família tomava as refeições em conjunto sem distinção de sexo ou idade. Quanto a Laith, encorpado, com o cabelo rapado e os olhos azulados, não era um iraquiano típico. Gostava de vestir calças bem passadas a ferro e todos os dias mudava de roupa. Talvez por isso, e por saber que a nossa estadia no sul do Iraque podia ser prolongada, Laith levou bastante roupa. À saída para Bassorá, a roupa, toda direitinha em vários cabides foi pendurada no interior do jipe, algo que não gostei porque seria um motivo para tornar o carro notado e facilmente identificável. Disse a Laith para a retirar mas vi-lhe a desilusão estampada na cara e argumentou que não ia haver problema. A equipa do JN gozava a cena chamando ao nosso carro o “5 à sec”, uma alusão à cadeia de lavandarias devido às roupas de Laith expostas no jipe.
13 de Novembro, é o dia de aniversário da minha mãe. Faz 80 anos. Não lhe telefono nessa manhã devido à diferença horária e a pensar que o faria depois da chegada a Bassorá.
Seguimos viagem em direcção a sul. Não sabemos muito bem onde vai ficar a GNR mas havemos de lá chegar. É importante chegar a Bassorá, arranjar uma base, largar as malas e sair à procura de motivos de reportagem. Para escrever estas linhas recorri a uma conversa com o Domingos de Andrade porque havia aspectos que desconhecia e outros que a minha memória selectiva fez questão de apagar. Depois deste dia apenas faláramos de forma muito superficial sobre o que aconteceu.
A viagem começa tranquilamente e assim decorre durante vários quilómetros com Laith e o condutor da equipa do JN a revezarem-se na frente. Havia descontracção apesar do que tinha acontecido no dia anterior. Como sempre, a minha pequena mochila com gravador e microfone, bloco de notas, pilhas, mapas, documentos e algum dinheiro segue comigo, no chão do carro junto dos meus pés ou em cima das pernas. O telefone satélite e o colete à prova de bala seguem no banco de trás, a mala com o resto das coisas vão na bagageira do jipe. No Iraque circula-se sem cinto de segurança.
Conta-me o Domingos de Andrade que a determinado ponto do percurso nota a ausência quase total de viaturas na estrada em que seguíamos. Confesso que não me lembro mas ele garante que é nesse momento, que o meu jipe é trancado por um carro modelo americano. Seriam umas 11h30. A viatura surge a grande velocidade e atravessa-se à nossa frente, janelas abertas e as kalashnikov apontadas. Laith é obrigado a parar porque a berma não oferece escapatória. Num instante, no meio de muita gritaria, os homens armados descem do carro, dois deles abrem-me a porta e puxam-me violentamente para fora, não tenho tempo sequer de segurar a minha mochila, fazem-me uma revista rápida certamente à procura de alguma arma e empurram-me para outro carro, virado em sentido contrário. Fazem o mesmo com Laith. Mandam-me levantar os braços e ainda a andar para o carro dos raptores oiço vários tiros. Tento proteger-me mas sou agarrado e empurrado para o interior do jipe onde já está Laith. Recordo-me de tentar descodificar a expressão de Laith mas só vejo um Laith atónito com o medo e a angústia estampada no rosto. Tento dizer para mim mesmo que é preciso manter a calma, o sangue-frio. É isso que vou tentar fazer daí para a frente. Não tenho nenhuma experiência deste tipo de situações nem sequer qualquer formação que me ajude a ultrapassar estes momentos terríveis. Tudo o que sei é do que tenho lido sobre situações semelhantes. Não é muito, mas será a única coisa que me poderá valer.
No jipe, para além de mim e Laith, os dois no banco de trás, segue um dos raptores, ao meu lado, o condutor e um terceiro homem no banco do pendura. O jipe, semelhante ao de Laith, arranca a grande velocidade em contra-mão, em plena auto-estrada. Domingos de Andrade diz-me agora que os tiros disparados foram contra a equipa do JN que parara alguns metros à frente para tentar, de alguma forma, ajudar-nos. A resposta dos raptores não lhes deu qualquer hipótese e tentar fosse o que fosse, naquelas circunstâncias, seria pura loucura e não traria qualquer benefício. A partir desse momento, e porque a proximidade do Koweit permitia a utilização dos telemóveis, a equipa do JN desdobra-se em contactos. Com a GNR no Iraque, com o comandante da Brigada Italiana e com as redacções em Portugal. Fiquei a saber, na tal conversa com o Domingos de Andrade, que as forças da coligação lançaram uma operação de imediato para tentarem encontrar-nos. Esclarece ainda o Domingos que não houve qualquer negociação com os bandidos apesar do que chegou a ser veiculado, certamente fruto de algum mal-entendido.
No jipe, com os raptores, obrigam-nos a manter os braços levantados e as mãos atrás da cabeça. Seguimos durante alguns minutos, não sei quantos, na auto-estrada, mas depois entramos no deserto. Estrada de terra batida, no meio do nada, sem pormenores que ajudem a identificar a zona por onde o carro vai avançando sempre a grande velocidade. Para além disso, o meu esforço para tentar perceber para onde me levavam rapidamente foi reduzido a nada porque as muitas voltas que o jipe deu provocaram a desorientação absoluta em termos de localização. A única possibilidade seria a de manter a noção do tempo, mas até essa se começou a diluir porque os raptores exigiam a minha permanente atenção com perguntas, que Laith traduzia, tentando no meio das traduções passar algumas breves mensagens sem que os raptores entendessem. Por momentos, longos momentos, devido à minha fisionomia e também à de Laith, desconfiaram que fosse eu o árabe tradutor e Laith o jornalista. Várias vezes se dirigiram directamente a mim em árabe na tentativa que eu respondesse, o que seria, para eles, um sinal de que eu percebia e falava árabe.
Os três elementos do bando que iam no jipe não se entendiam entre eles. Ao que parece, pelo que Laith contou depois, tinham perspectivas diferentes sobre o objectivo da acção que estavam a desenvolver. Para uns seria apenas o roubo, para outros algo mais do que isso. Nos bancos da frente, condutor e “pendura” tinham períodos de acesa discussão, sendo que o “pendura”, talvez o mais novo dos três, estava assustadoramente agitado e sempre de arma na mão, que apontava em todas as direcções à medida que ia esbracejando durante a discussão. Nunca consegui perceber qual deles tinha estatuto de líder se é que algum o tinha, mas fiquei com a ideia de que, apesar de ser o único armado (com arma à vista…) dentro do carro e de toda a agitação de que dava mostras, não seria o elemento mais novo a ter a última palavra em relação à forma como aquilo iria terminar. Mas isso concluí depois, a verdade é que nesse momento estava verdadeiramente assustado sem saber muito bem o motivo da discussão e nem como iria safar-me daquela situação. Ainda assim, dei por mim a raciocinar friamente: não mostrar medo, não hostilizar os elementos do bando, tentar demove-los que qualquer intenção mais radical, frisar sempre que não era militar, nem polícia, nem diplomata, mas apenas jornalista e que estava no Iraque a trabalhar e a fazer notícias sobre os problemas do país e das pessoas face à ocupação. Era a tentativa de fazer um discurso sensato que agradasse aos sequestradores e não lhes incendiasse o espírito.
Passado pouco tempo de sairmos da auto-estrada começou a revista. Com as mãos atrás da cabeça, o elemento do bando que estava sentado ao meu lado começa a revistar-me a abrir-me os bolsos. Tira-me a carteira à procura de dinheiro e retira algumas centenas de dólares, vê os cartões de crédito e volta a colocá-los no sítio. Tira-me o relógio, os óculos escuros, telemóvel, cigarros e isqueiro, mas quando chega à pequena bolsa que tenho ao pescoço onde guardo o passaporte e a carteira da Federação Internacional de Jornalistas, pára um instante olhando para as fotografias e olhando para mim e volta a colocar tudo no interior da carteira. Estes dois pormenores, o de não quererem os cartões de crédito nem os documentos tranquilizam-me. Isto é, no momento concluo que se algo de mal me quisessem fazer ele não teria a preocupação de me deixar na posse dos documentos. Ou será que não sabe o que é um cartão de crédito?
A viagem a grande velocidade prosseguiu enquanto o homem que me revistou o fazia com toda a tranquilidade. A discussão entre os dois da frente também continuou e nesse momento, recordo-me bem, percebo que são apenas um grupo de marginais porque se fossem um grupo organizado com objectivos políticos aquela discussão não teria lugar. Calado, por não perceber nada do que estavam a dizer, observo como Laith se começa a enervar e começa a elevar o tom de voz enquanto o mais novo dos sequestradores fica também ele mais exaltado, aos gritos, brandindo a pistola e ameaçando bater em Laith. Sem saber o que estão a discutir, bato várias vezes com a minha perna na perna de Laith para tentar que fique mais calmo, mas acho que Laith nem deu por isso.
Já perdi a noção das horas, do tempo que levamos dentro daquele carro, do local onde nos encontramos e da direcção que seguimos. Tenho o sol como única orientação, mas depois de muitas voltas apenas sei, mais ou menos, que seguimos em direcção a sul.
Entretanto Laith desistiu da discussão e adoptou um tom mais calmo, chegando mesmo a parecer sedutor. Pelo ritmo que as coisas levam dentro do carro, formo a ideia de que dois dos sequestradores sabem muito bem o que querem fazer, mas o tal mais novo pretende dar outro rumo à aventura e não se dá por vencido. Mas algum tempo depois já fala sozinho, não pára quieto no banco, sentado de lado olhando para trás, enquanto esbraceja e vai apontando a arma alternadamente para mim e para Laith. O meu maior receio neste momento é que a arma dispare acidentalmente tal a violência com que é manipulada. Os outros dois seguem tranquilos apesar da velocidade com que o jipe continua a atravessar as estreitos trilhos de terra batida.
Subitamente, sem que nada o fizesse prever, param o carro e mandam-nos sair com as mãos atrás da cabeça, empurrando-nos, enquanto Laith começa a falar com eles. Laith está assustado. Percebo que alguma coisa se vai passar mas não faço ideia do que será, mas pressinto que não será nada de bom. Afinal, porque nos mandam sair do carro num local onde não há rigorosamente nada? Saem todos do carro. Nós saímos pela porta traseira do lado esquerdo, passamos pela traseira do carro e empurram-nos até nos afastarmos uns metros numa berma ligeiramente inclinada. O condutor volta imediatamente para o carro, um outro fica de fora com a porta aberta e um terceiro, o mais jovem, de pistola na mão, manda-nos ajoelhar batendo-nos por trás na zona dos joelhos. Ajoelhado, com as mãos atrás da cabeça, adivinho a hesitação e o desnorte na cara do homem que tenho à minha frente de arma apontada. É uma sensação terrível quando me apercebo do lento movimento que ele faz a levantar o braço e a apontar a arma. Sinto algo a percorrer-me o corpo. Algo ao mesmo tempo gelado e quente. Nesses breves segundos, não sei como foi possível pensar em tanta coisa, momentos e pessoas, que marcaram a minha vida, numa sequência quase de filme. É um flashback que se inicia de forma absolutamente incontrolável e inexplicável.
Acordo quando Laith me diz para não olhar e para não falar. Baixo a cabeça, olho pelo canto do olho para a minha esquerda onde está Laith e vejo-o de cabeça baixa. Não me mexo. Sinto o coração a bater de forma completamente descontrolada. Finalmente, oiço o motor do carro a acelerar, mas ainda assim Laith insiste para que eu me mantenha quieto e de cabeça baixa. É o que faço, esperando que aquele ruído do motor seja cada vez menos perceptível, sinal de que se afasta. Começo a tentar olhar à volta ainda de cabeça baixa, e não vejo ninguém. “Ok José”, diz-me Laith quando já mal ouvíamos o roncar do motor do jipe. Parecia que tudo tinha terminado menos-mal. Olho para um Laith pálido, boca seca, que olha para mim de uma forma inexpressiva.
Durante todo o percurso que pareceu uma eternidade, pedi a Deus que me ajudasse a sair daquela situação. Um Deus que eu não sei bem quem é, mas que talvez devido à educação de inspiração católica, faz questão, de vez em quando, de me fazer pensar se ele realmente existe. E, por vezes, parece existir.
Quando nos levantamos não temos palavras e abraçamo-nos. Ficamos assim algum tempo com a sensação de que estivéramos mesmo à beira do abismo. Teria bastado nem sei o quê para que tudo tivesse sido diferente. Afinal, aqueles homens permaneceram de cara destapada durante todo o tempo que nos mantiveram sequestrados e isso significa que os poderíamos reconhecer e denunciar, apesar de não sabermos os nomes, de onde são, e Laith diz-me que nem sequer conseguiu ver a marca dos carros que utilizaram, com excepção do jipe em que fomos levados para aquele pedaço de deserto onde agora estávamos sozinhos e sem saber para onde caminhar. Sequestradores de cara destapada foi um sinal que captei desde o início e que me deixou preocupado. Não tenho noção de quanto tempo passou. Uma hora, duas horas, mais?
Com a sensação de termos renascido, o pragmatismo empurra-nos para estabelecer uma prioridade: a de saber em que direcção andar de modo a encontrar uma estrada ou uma casa com um telefone. Estávamos livres mas ainda não estávamos em segurança. Tentamos durante alguns momentos, em silêncio, captar algum ruído que nos dê um sinal de gente nas proximidades. Nada, apenas o vento que, com o aproximar do final do dia (anoitece cedo em Novembro), começa a fazer-se sentir em pleno deserto. Quando pensamos identificar o som de motores de carros, muito ao longe, começamos a caminhar nessa direcção. Temos o sol atrás de nós, já a cair no horizonte, mas temos receio que possamos ser enganados pelo vento. Ainda assim, não temos alternativa.
Laith tem apenas uma camisola de manga curta e eu, para além de uma camisola tenho um colete de bolsos o que é fraca protecção para a temperatura que começa a baixar e que naquela época do ano, no deserto, durante a noite, aproxima-se facilmente dos zero graus. Laith diz-me isso mesmo e fala-me dos cães selvagens, outro perigo da noite no deserto. Não sei se fala verdade se me quer amedrontar fazendo com que ande mais depressa. Não temos água nem nada para comer.
Depois de caminharmos muito tempo em silêncio, a descompressão que sentimos por nos ter sido devolvida a liberdade, leva-nos a falar e por vezes até a rir. É então que tento saber alguma coisa sobre toda a conversa no interior do jipe. Laith explica-me que não pudera traduzir tudo o que eles diziam, mas agora conta-me que a discussão entre eles derivava do facto do mais exaltado pretender pedir um resgate e de os outros dois não terem concordado. De início estariam indecisos, chegaram a discutir o valor a pedir pelo resgate mas Laith revela-me que entrou na discussão com o argumento de que eu era um simples jornalista e que Portugal era um pequeno país e que ninguém lhes pagaria 50 mil dólares por mim. Para além disso, diz-me Laith, o amadorismo dos sequestradores revelou-se em pleno quando Laith lhes perguntou a quem iam pedir o resgate e onde nos iriam manter sequestrados. Não souberam responder. A brincar, faço cara séria e pergunto-lhe se ele acha mesmo que eu não valho 50 mil dólares. Laith não responde mas solta uma gargalhada e abraça-se a mim.
Para além das questões logísticas que são necessárias num sequestro e que estes bandidos não tinham, outro aspecto terá sido mais decisivo: sabiam que se pedissem um resgate teriam as forças da coligação atrás deles. Afinal, eram apenas bandidos de beira de estrada que queriam roubar os valores aos viajantes, beneficiando da impunidade provocada pela ausência de lei e de autoridade, e sabendo que se não ultrapassassem essa barreira não teriam grandes problemas porque as forças militares tinham preocupações muito mais graves do que andar atrás de ladrões.
Falamos enquanto continuamos a nossa caminhada. Passamos por duas casas, rodeadas por muros e com os portões de entrada fechados. Numa delas ninguém responde aos gritos de Laith, na outra apenas conseguimos ver ao longe umas crianças que não se aproximam. Laith insiste mas perante um portão fechado a cadeado o mais certo é não haver nenhum adulto na casa. Resta-nos continuar a andar no sentido do ruído que parece ser o de carros a passarem numa estrada. Percebemos que o som vai aumentando de intensidade, sinal de que devemos estar a caminhar na direcção certa.
Apesar das minhas botas serem uma boa protecção para aquele piso árido e cheio de pequenas pedras, Laith com sapatos mais frágeis consegue andar mais depressa do que eu. Depois de muito tempo a andar, que não consigo dizer quanto, vemos ao longe, a um nível superior ao que nos encontramos, a silhueta de carros que passam. É a certeza de que estamos a chegar a uma estrada. Não sabemos qual, mas também não interessa.
Apressamos o passo e depois de chegarmos à estrada, passam alguns camiões que deixamos seguir. O que queremos mesmo é ver uma viatura militar. E nem dez minutos depois surge um Humve norte-americano. O roncar característico torna-se perceptível ao longe. Avançamos para o meio da estrada e percebemos que os militares já nos viram quando o carro abranda a marcha. Lembro-me de tirar da bolsa a carteira internacional de jornalista, que tem uma capa vermelha e as letras PRESS em maiúsculas e num corpo que poderá ser visível ao longe através de uns binóculos. Eu e Laith, no meio da estrada de braços no ar aos gritos repetidos de press, até que os militares param. Depois de perceberem quem somos aproximam-se, entabulamos conversa e percebo que já sabiam o que nos tinha acontecido. Confesso que, pela primeira vez na vida, gostei sinceramente de ver uma bandeira dos Estados Unidos da América. Estava na farda do Sargento Mastrapa, da Polícia Militar norte-americana, o homem que comandava a patrulha. Deram-nos água e cigarros e fizeram um série de perguntas mais ao jeito de conversa do que de interrogatório. Fizeram também algumas comunicações via rádio e alguns minutos depois, vejo chegar militares britânicos e o carro da equipa do JN. Abraçamo-nos, esclarecemos que está tudo bem e diz-me muito mais tarde o Domingos o que eu lhe disse nesse momento, coisa de que já não me recordava: “Meu grande estúpido, nunca mais voltes a fazer isso!”. Assim mesmo! A frase poderá parecer ingrata mas estava longe de o ser. Apenas lhe quis transmitir que parar como eles pararam no momento do sequestro, tendo depois sido alvo dos tiros dos sequestradores, foi um acto de loucura que apesar de corajoso e solidário, poderia ter acabado mal para eles e não alteraria a nossa situação. Ao contrário do que foi escrito em alguma imprensa, a equipa do JN não negociou nem pagou nenhuma verba aos assaltantes.
Feitos os contactos com os comandos militares e apesar de estarmos em território sob comando britânico fica decidido que ficamos com os soldados norte-americanos. Eu e Laith entramos num Humvee norte-americano onde só há uma placa de espuma para nos sentarmos. É uma espécie de caixa metálica com uma abertura no tejadilho onde vai empoleirado um atirador de metralhadora pronta. Seguimos com três militares que formam aquela equipa: o sargento Mastrapa, o atirador e o condutor. O Jipe da equipa do JN com o Domingos Andrade, o Alfredo Cunha, o condutor iraquiano e o tradutor Mohammad, seguem também connosco. A decisão de ficarmos com os norte-americanos foi motivada pela impossibilidade de, ainda durante o dia, chegarmos à base onde estava a GNR e os outros jornalistas portugueses.
Não estou em estado de choque, ao contrário do que foi referido em alguma imprensa portuguesa que tive oportunidade de ler após o regresso do Iraque. Sendo verdade que foi uma situação que “abana” qualquer ser inteligente, tenho a consciência perfeita do perigo que corri, juntamente com Laiht, mas o que sinto neste momento, na companhia dos militares norte-americanos, é um grande alívio e uma enorme descompressão. Nesse momento já pensava, isso sim, no que iria fazer a seguir, atendendo a que apenas tinha a roupa que trazia vestida. Esse era o problema que me atormentava, para além de saber que muitos dos que se preocupam comigo não descansariam enquanto não lhes falasse directamente.
Esta reflexão, aliada a uma sensação de impotência poderá ter-me transportado para uma atitude que poderia ser lida como de ausência mas que era efectivamente de meditação e reflexão, tentando encontrar respostas para as muitas questões que se me colocavam. Esta leitura, de que sou obviamente suspeito por eventualmente poder ser tentado a deturpar a realidade para evidenciar alguma valentia ou coragem, não pretende mascarar a realidade. De forma nenhuma. Aliás, o próprio facto de ter sido sequestrado e transformado em notícia por algumas horas, não tem nada de heróico e poderia ter acontecido a qualquer um dos camaradas em serviço no Iraque, como a partir de Novembro se comprovou. Pelo contrário, ter sido sequestrado revela que não tive capacidade para prever todas as possibilidades e precaver todos os eventuais problemas em relação à viagem entre Nassíria e Bassorá. Mas também é verdade que existem acontecimentos impossíveis de prever e há sempre, num contexto como o do Iraque, um elevado risco.
Algum tempo depois chegamos ao que resta de uma estação de serviço, à beira da estrada, no meio do nada. Serve de base a patrulhas norte-americanas. Tem uma mini guarnição permanente, está rodeada por umas fiadas de arame farpado e tem militares de vigia. Da estação de serviço restam as paredes. As portas largas servem para entrarem os Humvee’s.
O Alfredo Cunha quer registar todos os momentos e pede-nos para repetirmos alguns passos que ele não tinha conseguido fotografar à primeira. É um momento de boa disposição.
Apesar do dia atribulado acabamos por ter sorte e beneficiar da generosidade dos militares. Pouco depois da nossa chegada, surge uma patrulha que anda a fornecer alimentos aos militares que estão em postos fixos como é o caso daqueles com quem estamos. Recebem alimentação quente de três em três dias. Carne, vegetais, fruta, tudo num pequeno tabuleiro de alumínio descartável com várias divisórias. Os militares cedem-nos aquela que seria a sua comida quente e nós, embora envergonhados, não resistimos. Já tinham passado muitas horas desde que comêramos pela última vez. Está frio e já tenho vestido um blusão leve que o Domingos me emprestou.
Com o cair da noite, um camionista pede aos soldados que o deixem passar a noite por perto ao que eles acedem. Há-de surgir outro que também fica por ali. Têm uma cozinha ambulante nas caixas por baixo do atrelado. Não faltam especiarias, nem café árabe, ao lado de pratos, tachos, e os inevitáveis copos para o chá. Depois de comermos a refeição dos militares norte-americanos aceitamos passar um bocado sentados com os camionistas bebericando chá e fumando um cigarro tranquilo. Esses momentos são aproveitados para carregar a bateria do telefone satélite do JN através do isqueiro do camião e depois de várias tentativas para encontrar um cabo que servisse. Baterias carregadas, faço uma curta chamada para a rádio apenas para dizer que estou bem e alertando para o facto de ter ficado sem o meu material de reportagem e peço a alguns colegas para ligarem para a minha família a dizerem que já falaram comigo e a transmitirem uma palavra que os sossegue. Faço apenas mais um telefonema para a minha mãe: queria dar-lhe um beijo de parabéns. É isso que faço mas do outro lado quase só consigo ouvir um soluçar de mãe e algumas palavras ditas a custo e que, travadas pelas lágrimas, teimavam em não sair. Sossego-a o melhor que posso em pouquíssimo tempo. As baterias estão fracas e têm de ser poupadas, apesar de o telefone logo que foi ligado ter tocado com frequência.
Era tempo de tentar descansar para no dia seguinte seguirmos ao encontro da GNR e dos outros jornalistas portugueses. O condutor da equipa do JN mostra algum desconforto por ter de passar a noite naquele local e notamos-lhe algum nervosismo. Prefere dormir no carro, no exterior. Mohammad, dorme junto dos motoristas dos camiões TIR. O Domingos tem texto para escrever, e os militares acedem a deixar-nos dormir e trabalhar no interior da antiga estação de serviço. Peço ao Domingos uma esferográfica e um pequeno e começo a registar as minhas notas:
“é quase meia-noite. Deserto no Sul do Iraque, estrada que liga Nassíria a Bassorá. Shaibra (a base militar onde ficaria a GNR) está quase à vista, tal como as chamas das muitas chaminés dos poços de petróleo que pontuam a noite. Conto mais de 20. Laith está sentado a meu lado numa cama de campanha do exército dos Estados Unidos. Laith está desolado e só agora parece estar a acusar o facto de ter ficado sem o carro. Entre nós, na cama de campanha, um pacote de rebuçados de fruta portugueses. O Domingos de Andrade, sentado numa caixa térmica, tapado com um cobertor, escreve no computador portátil os textos que pouco tempo antes prometera enviar até à meia-noite. O Alfredo Cunha foi de novo junto dos camionistas carregar as baterias do telefone satélite que descarregam rapidamente. Mohammad dorme nos TIR. A noite no deserto revela-se muito fria. Junto a nós, cinco militares norte-americanos, mas há mais de vigia. As armas estão sempre prontas e não sei ao certo quantos militares são. O’Brien, da Carolina do Sul, foi o que se mostrou mais conversador. Insistiu em que comêssemos do que ainda havia e deu-nos água.
Escrevo à luz trémula de umas velas improvisadas, em latas de refrigerante cortadas a meio, e alimentadas por um combustível que desconheço e não identifico através do cheiro. Quando aqui entrámos, depois de longas horas no exterior e já meio enregelados, os militares jogavam às cartas, sentados em quatro cadeiras articuladas, de lona, e em que um dos apoios de braço tinha lugar para a lata de, no caso, coca-cola.
À minha frente, encostada à barreira de sacos de areia com um metro de altura, está uma caixa de cartão. No interior um cachorro adoptado pelos militares. Sax, assim lhe chamaram, ladra quando brincam com ele e de forma a aborrecê-lo. Fica em silêncio quando sente uns afagos mais suaves.
Escrevo, não sei se para passar o tempo, se para registar pormenores que a memória deixaria escapar, se por vício. Neste momento o Alfredo regressa com as baterias carregadas. Os militares percebem que estou quase com o nariz em cima do bloco de modo a conseguir ver o que escrevo e aproximam-me as velas. Até agora têm sido inexcedíveis. O’Brien confessou ser esta a sua última noite de serviço por estas bandas antes de umas curtas férias em casa, junto da mulher e dos filhos, dos quais já mostrara a fotografia. Smith, soldado, aproxima-se, senta-se e aquece as mãos no calor das velas. Tem um gorro escuro enfiado na cabeça. Discute futebol americano com Blackmon. São dois jogadores, estão descontraídos. Há um poster de duas belas mulheres pendurado numa porta de grades que esvoaça quando um sopro mais forte de vento atravessa esta casa de uns oitenta ou noventa metros quadrados. Há uma revista: Desenvolvimento Muscular.
Dois Humvee’s blindados com metralhadora de tripé no tejadilho servem de portas, como segurança e para proteger do vento. Há outra sala à qual não temos acesso nem perguntamos para que serve. Laith, numa cama de campanha, já dorme e treme de frio, apesar do casaco e da camisola de lã que lhe emprestaram. O motor de um dos Humvee’s é ligado para carregar as baterias que começam a ficar fracas com a utilização frequente do rádio de comunicações.
Smith tem agora o Sax ao colo e embrulha-o numa toalha. O vento está forte e a luz proporcionada pelas velas é muito irregular”.
Estou cansado mas não sinto sono. Mas decido estender-me, pode ser que adormeça e o dia foi complicado. O frio é muito e levo uma cama de campanha para uma pequena divisão onde a única abertura está rente ao tecto, na tentativa de conseguir um lugar onde consiga dormir. Encolho-me o mais que posso, tento tapar-me com o blusão mas recordo-me de acordar constantemente e de Laith, já quase de dia ter trazido um oleado com que me tapou. Pareceu-me uma fofa manta de lã, tal o frio que estava a passar. Com o frio mal prego olho e com os primeiros raios de luz todos acordamos e saímos esperando que o sol comece a subir no horizonte. Só nesse momento começamos a sentir o corpo a aquecer. Os camiões TIR já seguiram viagem. O pequeno-almoço é umas peças de fruta. Nada mau. Quando os militares puderem seguimos ao encontro do subagrupamento Alfa da GNR e também dos outros jornalistas portugueses.
Eu e Laith viajamos no carro da equipa do JN. É uma viagem relativamente breve até à base de Shaibah, talvez a 20 quilómetros de Bassorá. É aí que está a GNR e os jornalistas portugueses. Somos bem recebidos, mas por essa altura a preocupação da véspera relativamente à nossa situação, de que a GNR e os jornalistas tiveram conhecimento, foi transferida para outro ataque a um grupo de jornalistas portugueses que fizeram a viagem com a GNR até ao Koweit. A GNR chegara na véspera, à noite, mas os jornalistas, que não tinham podido entrar no Iraque com a coluna militar porque esta seguiu por uma estrada militar, fizeram a viagem nessa manhã. Má hora escolheram, apesar das cautelas, como me contariam depois e que passaram por retirar as chapas de matrícula dos jipes.
O ataque ao grupo de jornalistas portugueses acabados de entrar no Iraque, vindos do Koweit, foi a primeira prova de que a GNR chegara ao Iraque sem os meios necessários para estar num território em guerra. Por muito que os militares portugueses quisessem fazer, estavam sem meios de deslocação, sem base, e sem meios que lhes permitissem autonomia e subsistência. À distância tudo poderá ser justificado e os argumentos poderão até parecer razoáveis, mas observar directamente no terreno uma força militar, estacionada numa base estrangeira que desconhece, num país onde nunca esteve, e sem meios absolutamente nenhuns para além das armas, é algo que prova a loucura ou cegueira de quem toma uma decisão como a que empurrou a GNR para o Iraque. Ver os militares da GNR de mãos atrás das costas (sem ironia), a matarem o tempo perto da messe, sem se poderem movimentar e quando o faziam dependiam de autorização dos militares britânicos, e sem terem nada para fazer a não ser umas esporádicas formaturas… é um cenário surrealista. O desespero do comandante da força, Major António Oliveira, apesar de disfarçado perante os jornalistas, foi por demais evidente.
Nessa manhã, todas as preocupações estavam viradas para o rapto de Carlos Raleiras, da TSF, e para o estado da Maria João Ruela, da SIC, baleada. A chegada à base de Shaibah coincide quase com o momento em que circula a informação de que Maria João Ruela já está no hospital de campanha da base a ser alvo de uma intervenção cirúrgica. Apesar de baleada, e ainda sem se conhecer a gravidade e as consequências dos ferimentos, a jornalista da SIC estava a salvo. Quanto a Carlos Raleiras, não tive grande dificuldade em perceber o que estaria a sentir, sendo que nem tradutor tinha e seria pouco provável que os raptores falassem algum língua que permitisse a comunicação. Os primeiros momentos são dramáticos e essenciais para que enfrentemos a situação podendo raciocinar de forma mais fria possível. Se Carlos Raleiras o conseguisse fazer, tinha hipóteses de sair daquela situação. E saiu, depois de longas horas nas mãos dos raptores e certamente de muita angústia e medo. A história está contada em livro pelo próprio Carlos Raleiras.
Mas nesse dia muito haveria ainda para contar. Depois do almoço e depois de um briefing com o comando britânico para avaliar a situação, que foi sendo sucessivamente adiado até não se realizar, e depois também da indecisão sobre o que iríamos fazer e como evoluiria a situação da GNR no Iraque, os britânicos decidem que não temos condições para continuarmos no Iraque, talvez tenham decidido que não queriam ter de perder tempo com eventual o rapto de mais jornalistas num tempo em que já andavam mais preocupados em garantir a própria segurança. Fosse como fosse a decisão foi tentar despejar-nos no Koweit. À proposta de irmos para os hotéis de Bassorá retorquiram que a cidade não era segura. Ordem de partida por volta das 16h30, o Major António Oliveira deu-me um maço de cigarros LM com quatro cigarros dentro. Vamos em dois jipes Land Rover e já quase de noite, depois de uma passagem pelo porto de Umm Qasr, tentam atravessar a fronteira com o Koweit para nos deixarem do outro lado da fronteira. Laith, é o único iraquiano, nem passaporte tem com ele e vai escondido no carro em que também vou. Dos jornalistas portugueses são poucos os que têm visto para poder entrar no Koweit. Para além disso aquele é uma fronteira militar onde não podem passar civis. O Major britânico (escocês, se não estou em erro) fica furioso com a recusa das autoridades Koweitianas enquanto nós já nos divertíamos com a situação. Verdadeiramente zangado com a recusa do Koweit, o major britânico critica depois o facto de Portugal não ter criado meios de apoio à imprensa “como todos os países fazem”! Tinha alguma razão, mas o argumento funciona como escapatória ao plano frustrado.
Andávamos ali de um lado para o outro com os britânicos a quererem ver-se livres de nós e depois recusam-nos a entrada no Koweit. Com essa recusa e com a impossibilidade de ficarmos na base militar, a até aí perigosíssima cidade de Bassorá, em estado de sítio a partir do final do dia, ia ter que nos acolher. Os britânicos recusam-se a entrar na cidade durante a noite, o que não podia deixar de nos provocar alguma apreensão, e deixam-nos a alguns quilómetros. Estamos em dois carros, já não me recordo quantos éramos, mas com tradutores e condutores dos carros, devíamos ser uns 15 ou 16. Vamos em cima uns dos outros, quase não há ninguém nas ruas, apenas seguranças privados em locais estratégicos que pagavam essa segurança. De vez em quando ouvem-se tiros. Procuramos um hotel com a ajuda dos iraquianos e instalamo-nos. No Al-Mirbed a trabalhar e a conseguir fazer alguns contactos telefónicos, porque os telemóveis funcionavam, vive-se uma noite de verdadeira loucura em contactos com Lisboa. Mais uma vez constatamos a absoluta e característica desorganização bem à portuguesa. Do Ministério da Administração Interna, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Comando da GNR, assessores e secretários de variadíssimos centros de poder ligavam para Bassorá, perguntavam-nos se queríamos sair ou ficar no Iraque, quem queria sair e quem queria ficar. Os telefonemas não paravam, redundantes, pretendendo talvez demonstrar a preocupação sentida em Lisboa, mas sem qualquer tipo de proposta concreta. Mas à nossa pergunta, de como sairíamos se quiséssemos sair, ninguém sabia responder. Pedem-nos nomes completos e números de passaporte. Em Bassorá criamos a ideia de que estamos a perder tempo porque em Lisboa, todos os sinais indicam que ninguém se entende. E afinal de contas qual de nós tinha pedido para sair dali? Fico estupefacto quando leio, no regresso a Portugal, que vários órgãos de comunicação tinham começado a tratar de obter vistos para o Koweit de modo a que alguns jornalistas pudessem deixar o Iraque. Ou em Bassorá ninguém revelava o que lhe ia na alma ou tudo não passou de especulação ou terá havido precipitação das redacções. Particularmente, as minhas preocupações logo após ter sido sequestrado, foram exclusivamente para a falta de meios para trabalhar e os bolsos vazios, o que tornava a minha permanência no Iraque bastante complicada, facto que abordei nos contactos com a minha direcção de informação. Ultrapassada esta questão, o trabalho decorreu com a normalidade habitual numa zona de conflito armado.
Numa das noites que passámos no hotel de Bassorá, um fotojornalista turco confessava-me a angústia da mulher que não parava de lhe telefonar a pedir que pensasse nos filhos e que regressasse a casa. As notícias que a mulher tinha do Iraque davam obviamente conta do clima de quase guerra que se vivia e a preocupação era natural, mas este jornalista turco acabou por deixar de receber os telefonemas angustiantes da mulher porque neste dia 15 de Novembro, foi ele a ligar para casa depois de duas sinagogas em Istambul terem sido alvo de atentados que provocaram três dezenas de mortos. A mulher percebeu nesse dia que, não estando ela no meio de uma guerra, tinha tido as bombas à porta de casa.
É certo que em Bassorá, segunda cidade do Iraque com perto de 1,5 milhões de habitantes, a situação também era tensa. Um dia antes do atentado em Nassíria houve dois ataques em Bassorá. No dia em que chegámos à cidade o comando britânico lança o alerta para a possibilidade de um novo ataque.
A noite traz uma boa notícia: ficamos a saber que Raleiras tinha falado com a TSF. Sabemos que não podemos dar a notícia que pode comprometer as buscas que as forças da coligação estão a fazer. Enquanto estou em directo, alguém me escreve no bloco de notas “Não digas que a TSF falou com o Raleiras”.

Ficamos também a saber que em Lisboa, uma conferência de imprensa do Ministro da Administração Interna, Figueiredo Lopes, é adiada, em nome dos bons contactos com os comandos militares e autoridades britânicas para conseguir a libertação de Carlos Raleiras. Nesse dia, em encontro com a imprensa em Lisboa, o Major Matos Sousa, das Relações Públicas da GNR foi dos poucos a ter uma palavra de solidariedade para com os jornalistas no Iraque ao considerar que não tinha havido imprudência mas sim que tínhamos corrido alguns riscos para fazermos o nosso trabalho. Também o Presidente da República, Jorge Sampaio, na Bolívia, reconhecia que em todos os conflitos armados os jornalistas correm riscos grandes, mas que sem esses riscos não haveria informação. São apenas dois exemplos, mas ao contrário de Matos Sousa e do Presidente da República, muitas foram as vozes, sentadas em cadeiras aveludadas de comentadores, no conforto dos estúdios e dos gabinetes, a criticar algo que desconheciam em absoluto. Entre planos, interrogações, peças escritas para dizer na rádio e naturais inquietações, o que mais me preocupa é mesmo a falta de condições para realizar o meu trabalho. O Domingos de Andrade adianta-me uns dólares e paga o hotel, o tradutor dele empresta-me uma camisola quente, sento-me à mesa porque sei que aqueles que ali estão comigo (Domingos de Andrade, Alfredo Cunha, João Pedro Fonseca, José Carlos Carvalho e Rui do Ó) não me vão cobrar o jantar. Fumamos um Narguilé.

Em Bassorá, a 16 de Novembro todos os jornalistas portugueses (estávamos separados em dois hotéis) reúnem-se num dos dois hotéis que nos serviam de base. Estivemos à conversa tentando chegar a alguma conclusão sobre o que deveríamos fazer. Por um lado a indefinição da situação da GNR não permitia grandes planos, mas por outro era importante tomar decisões porque havia quem não tivesse carro nem tradutor o que tornava difícil realizar algum trabalho na cidade, sendo que aquela cidade de Bassorá não era propriamente o objectivo de nenhum de nós.
A situação na cidade era muito instável e sinal disso foi a reunião de tribos xiitas da zona com oficiais britânicos. Tentavam chegar a um acordo que permitisse a protecção da rede eléctrica e de algumas centrais de energia porque os actos de banditismo têm destruído o que resta da rede de distribuição eléctrica. Uma das reivindicações que os representantes xiitas colocaram em cima da mesa foi a de uma maior participação dos xiitas da região no governo central já que, na opinião deles, não estão a ser devidamente representados. É o jogo político. Quanto à insegurança verificada em toda a região de Bassorá dizem que tem sido uma escalada de actos violentos desde a queda do regime de Saddam Husseín e atiram as culpas para elementos do partido do antigo presidente. Mas o dedo mais acusador é apontado aos norte-americanos que os xiitas querem ver de partida o mais depressa possível.
No mesmo hotel, os jornalistas reúnem-se e decidem viajar para Nassíria quando a GNR também o fizer. É o resultado de uma reunião com o Major Charles Mayo, oficial que faz a ligação entre as forças da coligação e os jornalistas na área de Bassorá. Esta reunião acontece logo após a chegada de Carlos Raleiras. Recebido com abraços e alegria natural dos 12 jornalistas que o esperavam. Os militares britânicos que transportaram Raleiras levaram também algum do material que os raptores tinham levado do jipe dos jornalistas portugueses. As malas estavam praticamente vazias. Os britânicos detiveram no dia anterior um dos raptores, o que tornou possível recuperar algum material e Raleiras teve a sorte de recuperar o gravador dele, o que lhe permitia continuar a trabalhar uma vez que também tinha conseguido ficar com o telemóvel. Impressionante foi ver a quantidade de furos numa das malas, as peças de roupa completamente esburacadas e um capacete com uma bala cravada. Ficou claro naquele instante a brutalidade do assalto que resultara nos ferimentos em Maria João Ruela e no rapto do Carlos Raleiras.

